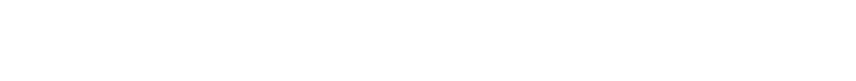A pós-modernidade era suposto ser a era da ironia, que desarma antecipadamente toda a violência e a retira da vida social. Hoje, no entanto, a ironia é um instrumento de violência para os fundamentalistas de direita que, sob a sua máscara, introduzem conteúdos fascistas no mainstream. Como é que isto aconteceu? No 55º aniversário da estreia de Monty Python's Flying Circus, Piotr Sadzik analisa o riso e o politicamente correto.
This text has been auto-translated from Polish.
Há poucas coisas tão sérias como o riso.
Ainda assim, parece ser subestimado. Normalmente, discutimos coisas importantes citando Dostoiévski, mas não assistindo aos Monty Python. E, no entanto - observa John Cleese, um dos Python - "basta pensar em quantos grandes filmes dramáticos existem e compará-los com o número de grandes comédias". Se a disparidade cair esmagadoramente a favor dos primeiros, isso prova que "a comédia é extraordinariamente difícil. É muito, muito mais difícil do que o drama".
No entanto, a comédia é demasiadas vezes tratada como uma mera brincadeira. No entanto, é naquilo de que nos rimos que não só se reflectem melhor os problemas sociais considerados graves e mais vastos, como é nele que eles se condensam.
Vejamos a ironia, por exemplo. Ela é, afinal, não só um instrumento de apoio à comédia, mas também uma figura de pensamento em que se condensa a natureza da pós-modernidade. A suavidade da ironia, que corta todas as lâminas, devia ser a base da democracia liberal. Em aliança com o entendimento neo-liberal do mercado, iria selar a sua hegemonia global dentro de alguns anos, construindo uma "aldeia global" na qual a vida fluiria ao ritmo do gotejamento universal da riqueza, na felicidade do "fim da história".
Ao demonstrar que já não existem verdades definitivas, e ao fomentar a diversidade, a ironia pretendia ser um para-raios eficaz para neutralizar qualquer extremismo, arrefecer a temperatura das disputas e mostrar que qualquer problema pode ser resolvido sem se saltar para a garganta dos outros.
A ironia, por definição condenada à dualidade, indicando a tensão entre o que se diz e o sentido real do que se diz, era adequada para quebrar o fundamentalismo da univocidade, mostrando que o mundo não é o que parece. Funcionava assim perfeitamente como arma rebelde contra a hipocrisia social. Desmascarava os lugares-comuns, quebrando a sua fachada para revelar a violência que se escondia por baixo. E nesta época, a violência foi estigmatizada, numa tentativa de a banir do espaço do debate público.
A proclamação de opiniões odiosas e de ataques a grupos minoritários, escreve Andrzej Leder em Houve um... Pós-modernismo, "provocou uma reação social negativa muito forte" e "levou à marginalização imediata do autor". Era a ironia que deveria fazer com que a violência não só fosse afastada da vida social, mas também que deixasse de ser possível.
No entanto, a ironia não tardou a dar errado.
Este dispositivo retórico, que prevalece na prosa do pós-modernismo americano - David Foster Wallace, que invoco como testemunha óbvia - foi tomado pelo mercado. A ironia autorreferencial, orientada para a alusão, destacou-se como o combustível da irreverência que impulsionou o desejável comportamento do consumidor. Ao fazê-lo, porém, a ironia diluiu-se e as suas presas críticas foram limadas.
Quer minar o mercado chamando a atenção para a estupidez da publicidade? Boa sorte! Em nenhum outro sítio foi demonstrada de forma mais forte do que nos próprios anúncios que, nos anos 80, começaram a falar por si próprios sobre a sua nocividade. O resultado? As vendas do produto dos anúncios falsos aumentaram, e muitas vezes.
E o efeito mais duradouro? Uma vez que a crítica mais impiedosa ao mercado é feita pelo próprio mercado, que não só viola brandamente o seu poder como reforça o seu reinado, isso significa também que já não é possível adotar uma posição crítica em relação a ele. Eis que o mercado, tal como as passagens e os sonhos em Walter Benjamin, "carece de um exterior".
A ironia, maravilhosa como ferramenta de resistência à autoridade, revelou-se terrível como ferramenta da ordem existente. A ironia cumpre apenas uma função negativa, actuando na pontuação, nos interlúdios, como uma força crítica desmascaradora, uma exceção que, quando se torna regra, se transforma em inferno. Essencial para os rebeldes que expõem a hipocrisia do poder, a ironia utilizada para defender a ordem existente revelou-se uma arma para pacificar qualquer protesto, ou mesmo para neutralizar antecipadamente qualquer rebelião. "A opressão da ironia institucionalizada" (Wallace) tiraniza-nos, pois cria uma situação sem saída.
No entanto, parecia que a ausência de saída se aplicava aqui ao mercado pós-político, como se supõe. No entanto, as coisas complicaram-se ainda mais.
O ironista liberal e o ironista fascista
Na era dos triunfos da democracia liberal, os seus opositores mergulharam numa profunda defensividade, ocupando as margens da vida política. Inicialmente, difamaram a pós-modernidade, acusando-a de relativismo, vacilação moral e degeneração moral.
Em condições de recuo constante, as forças anti-liberais tiveram de se reinventar, de se reenquadrar. A solução estava à mão. Como era a ironia que garantia a não-reversão, os fundamentalistas começaram a disfarçar-se de ironistas. Acontece que a pós-modernidade não só lhes criou as condições para actuarem, como até os recompensou. A direita hackeou a pós-modernidade, golpeando os seus fundadores com as suas próprias armas.
Assim, uma vez que o fascismo era socialmente tabu, o humor irónico começou a servir como uma máscara que permitiu que o conteúdo do fascismo totalmente não irónico se infiltrasse na corrente dominante. Como diz Alexander Reid Ross, autor de Against the Fascist Creep: "o humor ou a ironia tornaram-se uma forma de mudar a posição afectiva de uma pessoa sem recuar em relação a quaisquer posições ideológicas". A Alt-right (que depois encontrou imitadores na igualmente anti-liberal alt-left) fez da ironia uma arma para a disseminação de conteúdos violentos. Aqui, a ironia serve - trata-se de Angela Nagle, autora do livro Kill All Normies dedicado à alt-right - para "minar a confiança nos seus críticos".
O pivô significante da ironia permitiu assim mascarar o ódio. Uma vez que "é impossível apanhar um ironista" (Wallace de novo), as mãos levantadas durante um hajj podem ser explicadas como um gesto para pedir cerveja, a suástica pode ser vista como um símbolo indiano antigo de boa sorte, o apagar das velas de Hanukkah com um extintor de incêndio uma performance, e a invasão pode ser levada a cabo fingindo ser um pacifista. Afinal de contas, "estes uniformes podem ser comprados em qualquer loja". Não é por acaso que esta frase perfeitamente irónica foi proferida por um genocida.
Se o internacionalismo anti-liberal de hoje encontra a sua fonte, ideológica e muitas vezes financeira, no Kremlin, é precisamente porque a Rússia se tornou, sob Putin, um pesadelo cumprido para os ironioscépticos - um império do fascismo pós-moderno. Pelas mãos de Dugin e de outros machers da manipulação colectiva, interceptou maliciosamente o que parecia ser o pensamento mais "progressista" dos campus ocidentais do último meio século, para o usar contra o odiado Ocidente como garante da existência de um mínimo demoliberal de respeito pelo indivíduo.
O humor, porém, não serve apenas de camuflagem. Este fascismo 2.0, o fascismo em novas decorações digitais, tem-no como um dos principais instrumentos de luta política. O riso tornou-se uma arma para atingir os adversários. No trolling nascido nestas condições, gozar, humilhar e "continuar" revelou-se uma arma de destruição maciça.
O zamordismo tem hoje o rosto de um sorriso de complacência troladora ou de um riso de humilhação perante a humilhação dos outros, o que está muito longe da velha condenação conservadora do riso. O ironista fascista, no entanto, não é claramente o seu antecessor demoliberal. O fascismo de hoje usa a ironia como uma ferramenta útil para atingir objectivos fundamentalistas totalmente não irónicos. Os fascistas recorrem à ironia na fase de diversão anti-liberal dissimulada, quando é necessário mascarar uma mensagem odiosa fingindo defender um ponto de vista diferente. No entanto, usam o riso como um meio brutal de humilhar e desqualificar os seus oponentes na fase de confronto aberto. O motor do fascismo moderno é constituído por estes dois motores.
É claro que, quando lhe é conveniente, a direita moderna fica tão indignada quanto possível, sem ironia. Como quando os seus sentimentos religiosos são ofendidos por uma alegada paródia da Última Ceia. A direita também pode rir-se de um rival político (#laughingkamala é uma hashtag avidamente reproduzida pelos trumpistas). E nisto, no entanto, os novos direitistas são irónicos. O duplo mecanismo da ironia permite-lhes tomar sempre a posição oposta à do seu adversário, mesmo que o preço para isso seja contradizer as suas próprias afirmações anteriores ou acusá-lo de incoerência. No espaço da ironia, uma tal acusação torna-se, por definição, ineficaz.
Ironia e violência - aparentemente opostos, cujas órbitas nunca se deveriam cruzar - começaram agora a apoiar-se mutuamente. Vimo-nos encurralados. O "ironista liberal" que Richard Rorty pensava que cada um de nós deveria tornar-se foi substituído por uma figura que até agora teria sido considerada um oximoro excêntrico. O "ironista fascista" tornou-se o santo padroeiro dos novos tempos.
Uma inesperada troca de lugares
Mas, sobretudo, o campo liberal de esquerda e os seus adversários trocaram de lugar. Como Przemyslaw Czaplinski corretamente notou já há alguns anos, os liberais, vendo a sua hegemonia desmoronar-se, começaram a apelar à restauração da verdade que antes relativizavam, apontando a Constituição ou os direitos civis como "ponto de apoio absoluto".
Assim, enquanto os supervisores autocráticos se tornaram pós-modernistas subversivos, os seus opositores tornaram-se "fundamentalistas da democracia liberal". E, como fundamentalistas, já não podiam dar-se ao luxo de ser irónicos: "não se coíbem de fazer piadas sobre o poder, mas não podem usar a ironia contra as instituições que consideram absolutas". O campo demoliberal tornou-se um campo de princípios, enquanto os seus opositores se voltaram para uma permissividade subversiva, em que tudo pode ser potencialmente ridicularizado. É claro que também eles têm uma agenda de princípios, mas prosseguem-na através da ironia.
O feitiço de rebelião que atraiu a oferta demoliberal, mais ou menos desde os anos 60, trazendo mudanças emancipatórias e progressivas na cultura ocidental, foi tomado pela direita. Ao insurgir-se contra os dogmas da democracia liberal, a direita passou a poder conduzir as suas actividades sob a bandeira da dissidência descarada do sistema vigente, onde transgredir os seus limites passou a ser retratado como praticar a liberdade: "isso não é correto? E porque é que não havemos de dizer isso?
O fascismo, excluído fora do quadro do que era aceitável no espaço do debate público, estava agora revestido do encanto da "incorreção"; era mesmo a sua ofuscação que garantia o seu carisma rebelde. Foi através do humor que a linguagem de exclusão se tornou atractiva. Também porque, ao dar vazão a desejos até então sufocados, garantia um retorno sob a forma de um sentimento de prazer.
O mesmo aconteceu com o campo progressista que o precedeu. Afinal, o consenso demoliberal que triunfou no Ocidente na era pós-moderna nasceu de uma onda de oposição ao mundo das antigas proibições. No entanto, os direitos que conquistou têm agora de ser defendidos também por proibições: "não se pode dizer isso porque ofende os outros". Entretanto, qualquer cultura da proibição vê-se em apuros perante o poder desperto do desejo.
O problema é que, para garantir a proteção das minorias historicamente desfavorecidas em cuja emancipação participou, a democracia liberal teve de desenvolver salvaguardas sistémicas para elas. Para salvar o mínimo civilizacional, temos de estabelecer limites, por exemplo, regulando a liberdade de expressão para que não degenere em discurso de ódio e, acima de tudo, acreditando "seriamente" nos direitos humanos e no pacote de liberdades individuais. No entanto, um efeito secundário é também colocar os grupos perseguidos fora do domínio da sátira crítica. O humor, que costumava ser amplamente considerado como uma expressão de subversividade progressista, foi agora, precisamente em nome de slogans progressistas, procurado para ser moderado no espaço público.
Apesar de toda a justeza ética deste gesto, enquanto lutarmos contra o morordismo apenas com uma proibição reactiva, e não também com um redireccionamento das energias de impulso que o impulsionam, estamos condenados ao fracasso. É da proibição sistémica que este conteúdo retira o seu poder perverso. Enquanto nos posicionarmos apenas como defensores da democracia liberal, permitimos que os seus inimigos passem à ofensiva.
Se as proibições não funcionam, é porque o fascismo moderno é filho do permissivismo pós-moderno, que fez com que nenhuma proibição seja definitivamente eficaz. Num tal quadro de argumentação política, a correção ética por si só nunca vence; precisa do apoio da sua própria atratividade. A pós-modernidade começou por dar vantagem ao campo progressista, mas acabou por criar as regras do jogo em que os seus inimigos ganham. O permissivismo, que anos atrás impulsionou a marcha do progresso, trazendo mudanças emancipatórias que formam o pacote mínimo da democracia liberal, tornou-se agora, como portador de conteúdo excludente, o combustível de uma contrarrevolução zamordista que enterrou sua hegemonia. A mistura explosiva da cultura contemporânea é formada por esse nexo inextricável de permissividade (nenhuma proibição é inquestionável) e narcisismo: como as sociedades deixaram de aceitar qualquer disciplina, elas exigem um eterno concerto de desejos - querem ouvir apenas conteúdos que reafirmem sua complacência.
Por esta razão, seria necessário pensar de forma diferente sobre a espacialidade do humor. Enquanto perguntarmos onde está o limite do que pode ser gozado, estamos sempre a dar uma vitória ao fascismo. A sua versão niilista atual vai buscar força ao ultrapassar todos os limites que encontrar. A popularidade de líderes obscenos como Trump é prova disso. Por isso, temos de refletir antes sobre o tipo de comunidade que queremos construir através do riso. Temos de pensar num riso que seja política e socialmente crítico, mas também eficaz. Entretanto, vivemos hoje num espaço, supostamente sujeito à lógica do omni-entretenimento, em que o riso genuíno e crítico é escasso. Se, no entanto, a política acaba por ser não tanto um conflito de ideias mas um jogo em que, no final, é sempre o impulso que vence, ou seja, aquilo que atrai e promete uma gratificação agradável, opor-lhe proibições, moralismos ascéticos e seriedade grosseira é a receita mais curta para o desastre.
A caça às bruxas da comédia
Atualmente, o epicentro de tal rigor puritano tornou-se, sobretudo, a esquerda sob o signo da "wokeness". Foram eles que conduziram ao absurdo os instrumentos de valor inestimável da chamada correção política. Entretanto, como o demonstram, por exemplo, as reacções às recentes declarações de Dorota Masłowska, o campo da esquerda liberal continua a optar, com demasiada frequência, por um negacionismo tão confortável quanto suicida. Nega qualquer valor descritivo ao termo "politicamente correto", argumentando que a sua utilização é já uma reprodução da narrativa da direita.
Vale a pena recordar que, antes de (por exemplo, em Allan Bloom) se tornar um termo pejorativo dirigido externamente ao campo liberal-esquerdista, era usado no seu interior para ridicularizar os seus representantes que aderiam servilmente à rigidez da ortodoxia ideológica. Não se trata, portanto, de um saco de categorias do tipo "marxismo cultural" em que a direita encontra Che Guevara ao lado de Donald Tusk, para invalidar as diferenças entre os adversários e facilitar a tarefa de os atacar em bloco.
Em vez de fingir que o problema não existe, vale a pena confrontá-lo. Um tal defensor da crítica não-branca do "politicamente correto" é hoje Slavoj Žižek. E Žižek declara a questão com força: o politicamente correto é um terror moral que, ao fazer-se passar por uma luta contra a discriminação, torna-a impossível de transcender. Cleese faz-lhe eco: "o politicamente correto foi uma boa ideia na sua origem, mas depois transformou-se num absurdo". Enquanto instrumento de compensação justa para grupos historicamente perseguidos e escudo contra a sua futura exclusão, o politicamente correto sofreu uma mutação perversa na cultura "acordada".
Como Žižek escreve no seu último livro, uma crítica esmagadora do fenómeno, a injustiça transformou-se aqui num "dogma religioso secularizado". Desta forma, a "esquerda politicamente correta" constrói uma identidade narcísica em torno de um sentimento de mágoa. E no narcisismo das pequenas diferenças inerente ao "wokeismo", até o mais pequeno desvio da linha de correção aceite (por exemplo, o uso de uma palavra não suficientemente adaptada à nova sensibilidade), assume as caraterísticas de uma ofensa monstruosa e imperdoável que pode ser considerada ofensiva.
Mas uma vez que o humor pode, em princípio, ferir (porque qualquer coisa pode tornar-se o seu alvo), a "wokeness" como (mais uma vez Žižek) um movimento "extremamente autoritário" de "fundamentalistas puritanos" que participa em "novas formas de barbárie" tem de atingir os próprios fundamentos da comédia.
Os clássicos do género apontam para isso. Ainda há poucos meses, Jerry Seinfeld, numa entrevista para a New Yorker, dizia que, sob a influência do fetichizado "politicamente correto", as pessoas têm tanto medo de ofender os outros que "é o fim da comédia". Na mesma linha, o seu colaborador de há anos, Larry David, falou: "temos os nossos fãs que não esperam que sejamos politicamente corretos, [...] não querem saber de "wokeness". Querem rir e não se vão sentir ofendidos por isso".
Imediatamente se levantaram vozes de espanto contra os comediantes, que não sabiam como, afinal eles próprios sempre tinham sido perfeitamente corretos. O que se passa é que nunca olharam para as regras da correção. O colunista de esquerda, Ben Burgis, dedicou um livro inteiro à crítica do "cancelamento dos comediantes enquanto o mundo arde" (Canceling Comedians While the World Burns. A Critique of the Contemporary Left), dedicando-o àqueles que, no seu próprio campo, procuram criar "uma versão mais inteligente e divertida [...] da esquerda". É sintomático que os Monty Python (que este outono assinalam 55 anos desde a sua estreia na televisão britânica) tenham sido censurados por conservadores fanáticos ("tão engraçado que é proibido na Noruega" - proclamava o slogan cunhado pelo grupo para promover "A Vida de Brian"), está agora a ser alvo de críticas dos progressistas no Switchboard. Shane Allen, empregado da BBC como Comedy Controller (um nome digno de uma aparição em Monty Python) argumentou que o programa dos Pythons não seria atualmente transmitido, uma vez que os seis licenciados brancos de Oxford e Cambridge não reflectem muito bem a diversidade do mundo atual.
No Twitter foi imediatamente respondido por Cleese, com um post hilariante que era em si mesmo uma performance de liberdade provocadoramente incorrecta: "Isso não é justo! Nós éramos incrivelmente diversos. PARA O NOSSO TEMPO. E não havia proprietários de escravos". Incorreto? Žižek chama ao politicamente correto levado ao extremo "uma forma de auto-disciplina" que, tendo o cuidado de usar a palavra errada, mantém a exclusão como um ponto de referência indelével.
É claro que é bom estarmos a discutir a comédia hoje, num cenário alterado. Uma piada com uma intenção humilhante, sexista ou racista, é hoje considerada um embaraço cómico muito mais frequentemente do que era há pouco tempo (a recente exposição Piadas Livres no Museu da Caricatura, dedicada à apresentação do humor da transformação polaca, é uma excelente prova disso). Porque, claramente, as piadas podem ser extremamente opressivas. E, claro, é necessária alguma forma de regulação legal do discurso de ódio, para o qual o disfarce garante tantas vezes o humor ofensivo atual. No entanto, ao fazê-lo, a flexibilidade do juízo ético, que depende de cada situação individual, não deve ser perdida.
O nosso problema de hoje e de amanhã, escrevia há alguns anos o já citado Czaplinski, exprime-se "na questão de saber se é possível ter ao mesmo tempo a ironia e o absoluto, ou seja, o direito de pôr em causa todas as verdades e um valor inviolável". Isto significa, no entanto", acrescentou, "que tanto o absoluto como a ironia têm de aparecer numa versão diferente". É este o dilema que requer a perícia do Barão de Münchhausen: como ter um humor que seja um risco, que não tenha de morder a língua por medo de ofender alguém, e que assim conserve o seu poder subversivo, e que ao mesmo tempo não exclua, não se torne o calhamaço dos machadinhas identitários que através dele demonstram desprezo e superioridade? Como ter então a liberdade de rir e respeitar o indivíduo? Como, então, não ceder ao sectarismo inchado do novo puritanismo sem cair nos trilhos do engrandecimento da alt-right?
Os zamordistas de hoje estão apenas a divertir-se. O nosso trabalho é estragar-lhes a diversão. No entanto, isso não será de modo algum conseguido através de uma seriedade ascética. Tal como os apelos ao literalismo e à sinceridade simplista perante a ironia - isso seria uma expressão de capitulação. O que é urgente é apresentar uma crítica não direitista do politicamente correto. Caso contrário, será o campo da direita a descontar politicamente as pulsões que impotentemente reprime. Tirar à direita o monopólio do riso efetivo é, portanto, uma questão de vida ou de morte. Enquanto esta tarefa não for cumprida, não é possível qualquer mudança política duradoura.
Embora hoje estejamos longe de estar a rir, é do lado do riso que se podem procurar soluções: "Perante o insuportável", escreveu a filósofa e psicanalista francesa Anne Dufourmantelle, "ainda há a possibilidade de rir". Não se trata de uma minimização escapista da ameaça. Pelo contrário: saindo do cárcere, o riso procura "caminhos que ultrapassem a tirania da realidade". É por isso que o riso "é uma arma que inspira o medo" e "uma arma contra todas as autoridades". Com um volte-face brusco, permite transformar uma ameaça máxima numa oportunidade igualmente máxima, "transformando o horror em doçura, a proibição em passe".
O que precisamos hoje é de um humor ofensivo, descaradamente não puritano, refrescantemente obsceno, livremente contundente, nos antípodas de toda a irritabilidade narcísica, seja ela de direita ou de esquerda. Precisamos de rir contra a ironia, mas também de rir contra o ridículo violento, cuja expressão se está a tornar hoje no vómito desdenhoso dos trolls. Estas duas formas tão diferentes de ridículo têm, aliás, um denominador comum. Constroem o narcisismo identitário do bem-estar.
Quem pretende "arrolar" um adversário está satisfeito com a sua própria identidade, que define por contraste com os objectos do seu ódio. Tanto aqueles que, quando lhes convém, gritam que não há limites para a liberdade de expressão, mesmo quando essa expressão é acompanhada de um ódio evidente, como aqueles que vêem violência em cada micro-infração do seu próprio conforto, são emanações da política de identidade narcisista. Presos às suas crenças, eles "sabem" que "os refugiados estão a vir para a segurança social", "os estrangeiros estão a tirar-nos os empregos" e "os boomers estão a usar uma linguagem violenta". Esta é a linguagem da certeza. Aqui não há lugar para surpresas.
Entretanto, só nas fendas de uma imagem dogmaticamente homogénea do mundo é que se pode vislumbrar uma forma mais sensata do mesmo. Assim, se o narcisismo, que se agarra a identidades rígidas, é responsável pela tragédia política atual, precisamos urgentemente de transcender o seu poder hoje. Para isso, o riso presta-se por definição.
Universalismo do riso
O riso manifesta-se sob a forma de uma explosão, aquilo sobre o qual perdemos o controlo. "Abre uma brecha", como escreve belamente Dufourmantelle, "na trama quotidiana dos dias". Apanha-nos de surpresa quando, de repente, por um segundo, as coisas se dispõem sob o nosso olhar numa configuração inesperada, e o nosso comportamento habitual se rompe, dando lugar a convulsões do corpo risonho. O riso priva-nos do controlo e expõe-nos assim ao risco, à possibilidade de vitória e à ameaça de derrota ao mesmo tempo. E esta segurança é unanimemente desejada pelos representantes das diferentes políticas de identidade. Procuram um asilo de perfeita esterilidade. Aqui, nada do que vem de fora pode entrar no campo de visão, para que se possa destilar uma pureza étnica, racial ou ideológica abstrata, que a identidade egocêntrica acarinhará.
Em vez de rotular as identidades com rótulos, o que precisamos é de confusão, de um sentimento de não-identidade, como o que o movimento "queer" originalmente transmitia. Jack Halberstam, um dos clássicos dos estudos queer, falando contra a lógica dos "avisos de gatilho" e dos "espaços seguros", é o Monty Python que, situando-se nos antípodas do movimento "woke", escolhe hoje em dia ser um aliado. Ao fazê-lo, lembra-nos que a estética camp (bem como o próprio termo 'queer', sendo uma espécie de 'piada subversiva e retorcida') foi uma estratégia de resistência em que o humor serviu como ferramenta de luta. Por isso, "levado ao extremo, o politicamente correto" conduz à auto-sabotagem. Priva-nos de uma arma quando confrontados com golpes de Estado, cuja eficácia se baseia precisamente na utilização hábil do ridículo.
Quando Cleese insiste em que ninguém deve ser excluído da grosseria do riso, é claro que podem ser levantadas objecções. Se um grupo discriminado considera as piadas em questão ofensivas, não podemos questionar esse sentimento, pelo menos até que sejam tratados de forma igual fora da comédia. Uma tal advertência, por mais eticamente correta que seja, não tem em conta que, numa época em que a única lógica dominante se tornou a lógica do dano (Leder), o sentimento de ser uma minoria oprimida é também expresso por aqueles que mantêm a hegemonia simbólica: os brancos perseguidos pelo aparecimento de um ator negro no filme, os homens horrorizados com as exigências de igualdade de oportunidades para os diferentes sexos, ou a Igreja polaca, esmagadoramente modeladora da realidade local, mas convencida de que lhe estão a ser infligidas injustiças que os cristãos experimentaram pela última vez pelo menos no tempo de Nero.
A posição de Cleese poderia ser defendida de outro ângulo. Ver nela uma certa exigência idealista, uma visão do riso vinda de um futuro utópico. Um futuro em que se pode rir de todos sem exceção, porque a piada é contada dentro de uma certa ordem universal. É uma visão de equiparação de todos ao riso. Não é por acaso que, no seu último livro, Žižek mostra que o denominador comum da internacional de direita atual e do movimento "woke" é uma fixação na singularidade da particularidade da identidade de cada um. Entretanto, a emancipação só é possível sob a bandeira do universalismo. Não um universalismo como o emburrecimento da diversidade numa síntese unificadora, mas um universalismo em que cada um de nós será diferente, mas ligado por um sentido comum de não-identidade. O apego narcisista à própria identidade, por sua vez, pulveriza o movimento para uma mudança política significativa. É por isso que reinventar o universalismo é a tarefa política mais urgente da nossa era moderna.
É o riso que pode ajudar a concretizá-la. O riso que goza com toda a gente, mas não faz mal, é a intenção de quem ri, que também não se sente prejudicado pelo riso. Trata-se de uma piada que não atribui permanentemente um traço degradante como natural a um determinado grupo de pessoas, mas que, a partir do meio de uma consciência de que não existem tais traços naturais, assume que somos todos, embora diferentes, iguais. É assim que a crítica de Žižek ao politicamente correto se distingue da dos vários Jordans Petersons. Baseia-se num universalismo entendido como uma comunidade de diferenças que já não serve as hierarquias naturais, a convicção de que uma raça, género ou religião é melhor do que outra. É uma comunidade em que todos nos rimos violentamente uns dos outros, mas apenas porque nenhum dos que riem quer assumir uma posição dominante. De certa forma, é o próprio ridículo que se torna o motivo de chacota aqui.
Cleese diz que esta extração salutar do riso sob o fetiche de ser injustiçado: "todos os anos, na ONU, deviam votar para escolher uma nação para ser o alvo das piadas". É repetido por Žižek. Ao fazê-lo, ele pinta um quadro maravilhoso de uma utopia realizada, em que o ridículo já não se limita a ofender, mas serve para trazer compreensão. O esloveno conta como, na antiga Jugoslávia, se encontrou com representantes dos outros povos constituintes, bósnios, sérvios e croatas. Todos faziam piadas sobre os outros. Mas não uns contra os outros. Estávamos a competir", diz Žižek, "para ver quem conseguia contar a melhor piada sobre nós próprios": "Eram piadas racistas obscenas, mas que resultavam num maravilhoso sentimento de solidariedade e de obscenidade partilhada".
O ridículo, que até então tinha sido um instrumento de violência que quebrava relações, transforma-se num verdadeiro nó de amizade real - possível apenas ao preço de uma "troca de obscenidades amigáveis". Isto, continua Žižek, é o que mais falta ao "politicamente correto" - o contacto real entre eus não narcisistas. A forma de o estabelecer já não seria perguntar sobre as qualidades específicas que compõem a identidade do nosso interlocutor, mas exigir um desvio da nossa própria identidade: "conta-me uma piada de porco sobre ti e seremos amigos". É necessário "criar um ambiente para a prática de piadas, de modo a que estas proporcionem esse pouco de obscenidade que estabelece uma verdadeira proximidade".
A alternativa é entrincheirarmo-nos em identidades rígidas perpetuamente injustiçadas e ressentidas, em que a "wokeness" não seria muito diferente de vários redutos de direita de boa fama. Sem uma troca amigável de insultos, ficaremos assim para sempre fechados numa política cujo horizonte é definido pelo inimigo.
É claro que, dentro de alguns anos, as nações cujos representantes se ridicularizaram tão coletivamente estariam a matar-se umas às outras, praticando genocídios em massa. E, no entanto, se a obscenidade do riso não impediu o crime, provavelmente não vale a pena abandonar o seu potencial, a sua orientação para a desativação da violência. É claro que a visão de Žižek é uma imagem de uma comunidade impossível de formar nas actuais condições sociais antagónicas. E, no entanto, ao mesmo tempo, estas condições nunca mudarão a menos que sejamos convocados pelo ideal-alvo expresso nesta visão, que já poderia transformar as relações sociais actuais.
O elogio do risco
A balsa da nossa salvação política é, portanto, correr riscos. O riso, por outro lado, é por definição o grande - segundo o título do belo livro de Dufourmantelle - elogio do risco, não só porque tudo pode ser objeto de uma piada e não há qualquer santidade nisso, mas também porque no riso nos libertamos do espartilho restritivo da consciência, uma força que não podemos controlar assume o controlo dos nossos corpos.
Atualmente, associamos o risco de forma negativa, como aquilo que queremos eliminar. Se corremos riscos, é, como nos negócios, como um risco controlado, quando só nos propomos a fazer algo quando as contas mostram que vai compensar. Assim, associamos o risco ao trauma, do qual nos queremos proteger antecipadamente. No entanto, se procuramos uma surpresa feliz e, portanto, uma melhoria da nossa situação, devemos primeiro correr o risco de nos expormos ao imprevisto, que está fora do nosso controlo.
É por isso que Dufourmantelle fala de "traumatismo positivo", um acontecimento que invade os nossos limites e sobre o qual não temos controlo, mas é apenas através do buraco que faz na nossa autonomia que ganhamos a possibilidade de sair do nosso status quo infeliz. Como mostra Agata Bielinska, a saída não é um golpe preventivo para nos protegermos da ferida, mas "uma vulnerabilidade à ferida que ultrapassa a lógica da vítima e não exige compensação sob a forma de consolação comunitária ou de outra identidade rígida".
Parafraseando Eva Illouz, poder-se-ia perguntar: "porque é que o humor magoa?", para responder que, por definição, é impossível eliminar dele a possibilidade de se transformar num mal que magoa. No humor, a possibilidade de um dia podermos ser magoados deve permanecer aberta para que o humor possa também destruir o que magoa. Só não nos podendo proteger dos seus efeitos é que lhe podemos dar uma força subversiva. E é isso que ele procura amortecer ao rotular fenómenos particulares, embalando a realidade em recipientes práticos rotulados de "aviso de desencadeamento".
As políticas de identidade em geral tentam "emparelhar o mundo em rubricas" para que não descarrile "para o imprevisto, o aventureiro e o totalmente incalculável" (Schulz). O resultado é um imobilismo que exclui a possibilidade de mudança. Num mundo dilacerado por rótulos que não permitem a indeterminação que deles irrompe, só a salvação do que não pode ser categorizado nos pode salvar. Nada aponta tão bem o caminho para isso como o riso. "O riso" - afirma Cleese, como que fazendo eco de Dufourmantelle - "contém um elemento de surpresa, algo sobre a condição humana em que ainda não nos tínhamos apercebido". A certeza exclui o riso. As coisas que já sabemos não nos devem fazer rir porque "não são revelações". A verdadeira comédia é, portanto, uma ferramenta cognitiva inestimável. Permite revelar-nos dimensões da realidade que desconhecíamos.
"Aristóteles", proclamou Guilherme de Baskerville em O Nome da Rosa de Umberto Eco, romance sobre a busca do livro II perdido da Poética dedicado à comédia, "considera a tendência para rir como uma força boa que pode ter também um valor cognitivo, [...] obriga-nos a olhar melhor e faz-nos dizer: então era mesmo assim e eu não sabia". A comédia crítica apoia-se no inesperado ("Ninguém espera a Inquisição Espanhola!"). Por isso, não cimenta o bem-estar dos que riem, mas revela sempre fissuras no nosso conhecimento, revelando-nos algo de novo, levando-nos para além de nós próprios.
Não é a comicidade que os artistas de cabaret desprezíveis estabelecem com o seu público, dando-lhes o prazer de gozar com os outros em conjunto. Também não é o lançamento de palavras "incorrectas", que a direita anti-acordada toma como prova da sua própria inescrutabilidade, e que na sua previsibilidade e esquematismo enfadonho nada tem a ver com comédia. O riso crítico, e não o riso de superioridade - este arrepio de desespero alimentado por ressentimentos, nasce da surpresa. O que também significa que a verdadeira comédia é uma revelação, ou nenhuma revelação, revelando-nos por um segundo algo desconhecido. Como escreveu o evocativo Burgis: a boa comédia funciona "fazendo-nos rir de coisas que normalmente consideramos extremamente sem piada, tal como a boa literatura nos faz muitas vezes identificar com personagens com quem discordamos na vida real". No sentido literal da palavra, a comédia deve ser reveladora (no sentido do latim "revelatio" que significa "revelação"): o riso ensina a abertura para "o não ouvido" de que tanto precisamos politicamente. "Arriscar a vida é não morrer durante a vida", diz Dufourmantelle com firmeza. É provável que se possa confiar nela, especialmente quando tais palavras foram proferidas por alguém que se atirou à água, onde, ao salvar o filho afogado de outra pessoa, pagou por isso com a sua vida.
Em 1984, que em vez de concretizar a visão de Orwell viu o zénite do sucesso do pós-modernismo, Neil Postman em To Amuse Ourselves to Death perguntava como salvar um debate público devorado pelo entretenimento. Ele deu duas respostas, "uma das quais é absurda e pode ser descartada imediatamente; a outra, desesperada, mas a única que temos". Na nossa situação, que mudou radicalmente, talvez a mais absurda seja a única que temos. A opção "desesperada", na qual Postman via esperança, era a crença desiludida de que o mundo seria salvo pelas nossas escolas, onde deveria começar o despertar da tecnociência cívica. A profunda impotência desta solução advém apenas do facto de ignorar a forma como os nossos sistemas de conhecimento e as instituições que deles dependem foram eles próprios arrastados pela tempestade da revolução digital.
A segunda opção, segundo Postman, seria fazer programas de televisão (e substituamos a Internet, as redes sociais e outros espaços mediáticos, tal como os conhecemos hoje) "cuja intenção não seria fazer com que as pessoas desligassem" os seus aparelhos, mas mostrar como as imagens que exibem devem ser vistas, revelando como distorcem o nosso debate público. Essas actividades "assumiriam necessariamente a forma de paródias", próximas, acrescenta Postman, dos Monty Python, cujo objetivo seria provocar "uma gargalhada rubra pelo controlo" que as imagens dos media "exercem sobre o discurso público".
De facto, episódios inteiros de Monty Python's Flying Circus assumiam a forma de imitações exageradas de programas da grelha da BBC, serviços noticiosos, notícias desportivas, previsões meteorológicas, debates políticos, entrevistas e teleseminários. Cleese recordou uma vez que, depois de assistir a um programa dos Pythons, o público que assistia ao resto do programa da BBC desatava a rir vezes sem conta, completamente incapaz de levar a sério o que estava a ver. Por baixo dos programas "sérios", já conseguiam ver o mecanismo idiota reconhecido através da imitação dos Python. A anedota solta aqui introduz uma visão de prazer. Uma visão da correção redentora da visão.
Se o espetáculo mediático retira a sua força do facto de tomarmos as imagens que apresenta como "naturais", os esquetes Python retiram essa ilusão. Fazem com que o espetador se aperceba de que tudo foi construído de uma certa forma. E se assim é, significa que pode ser construído de forma bastante diferente. No exagero satírico, as dimensões ocultas da realidade são postas em evidência. O jogo social, juntamente com a maquinaria até então invisível da ideologia, é revelado como um jogo. Uma vez colocadas as lentes de Python, as convenções estabelecidas, os padrões de comportamento e os costumes, todas as hierarquias, sistemas e papéis sociais fazem exatamente tanto sentido como, para usar os termos de Python, uma expedição para escalar os dois picos do Kilimanjaro quando o outro não existe, uma tentativa de saltar sobre o Canal da Mancha usando o método de longa distância, ou um nome tão longo que provoca a morte de quem o pronuncia. Nestas condições, é difícil criar uma identidade narcísica de qualquer tipo.
E não seria a medida da indeterminação promissora numa época que quer rotular todas as identidades para consumir o produto? Foi esta necessidade de ficar fora dos dicionários que Terry Jones, membro do grupo, defendeu com grande perversidade pitoniana: "Uma das coisas que queríamos alcançar com o nosso espetáculo era tentar fazer algo tão imprevisível que não tivesse forma e nunca se pudesse dizer que tipo de humor era. E acho que o facto de a palavra 'pythonish' ser agora uma palavra presente no Oxford English Dictionary mostra até que ponto não conseguimos fazer isso."
É esse fracasso que devemos arriscar hoje.
**
Piotr Sadzik - é filósofo da literatura, professor na Faculdade de Estudos Polacos da Universidade de Varsóvia e crítico literário associado ao Dwutygodnik. Jurado do Prémio Literário da Cidade Capital de Varsóvia. Autor do livro Regiões de heresias individuais. Maran exits in Polish prose of the 20th century (nomeação para o Prémio Literário Gdynia 2023 na categoria Ensaio). Co-editor de Derrida's Ghost (com Agata Bielik-Robson), entre outros. Está a preparar um livro sobre os estados de exceção na escrita de Gombrowicz. Na Universidade Franz Kafka de Muri, dirige a cátedra de Bracket.